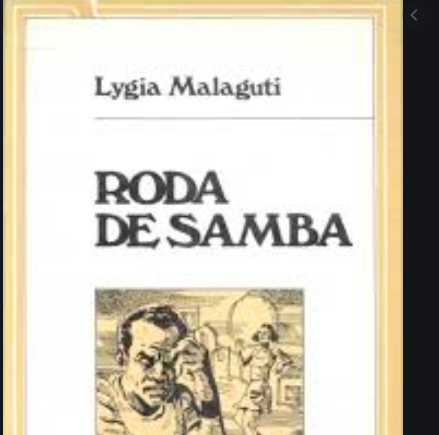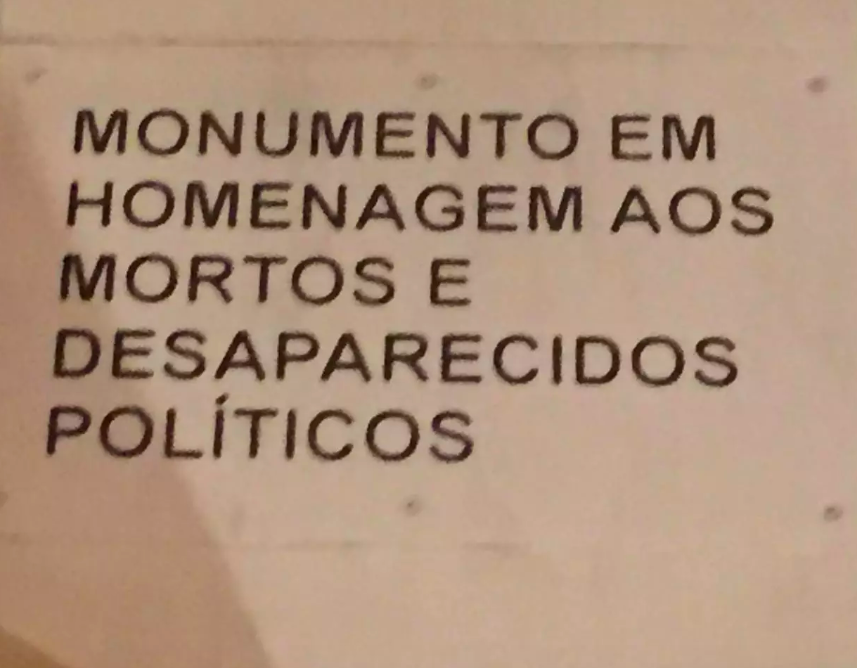Música de Boi
Para Erica Lima,
A quem devo um pouco de conhecomento da da vida dos brasileiros que imigram aos Estados Unidos a qualquer preço. Ao saber de sua morte, ocorrida faz dois anos, me recordei desse conto, escrito a partir da resposta que ela deu `a minha pergunta sobre a razão da imigração de mais um parente dela. Foi minha faxineira. E deixou neste pais uns quatro filhos .
Música de Boi
Minha vida sempre foi o boi. Lá em Minas, na roça, menino ainda, meu ofício era o abate. Sozinho no mundo, a mãe recém falecida e o pai já morto fazia anos, foi esse meu primeiro e único trabalho no Brasil. Perdi a conta de quantos bois matei. Não era matadouro elétrico, como tinha aqui, já naquela época. Era na marra. Até hoje, por lá ainda é assim. Primeiro, a gente prendia o boi no curral de pau. Depois, amarrava a cabeça dele. Em seguida, as pernas. Mestria era acertar o cabo do machado no meio da cabeça do boi, no redemoinho que ele tem no pelo, acima dos olhos. Se a pancada era certeira, o bicho tremia todo e revirava os olhos. Esse era o meu serviço. Depois, a gente encontrava a veia dele e sangrava o bicho ali mesmo. Era duro. Chorei quando me disseram ser a única oportunidade para órfão feito eu. Da vez primeira, tapei os olhos. Nos últimos tempos, eu até brincava: esse aí está no ponto, carne tenra deve ter. A tudo no mundo a gente se acostuma.
Por exemplo, me acostumei a viver neste país. No princípio foi que nem matar boi. Ou melhor, a gente é que era o boi, porque esperar trabalho arrebanhado é como estar num curral. Consertei telhado, trabalho de risco, principalmente pra brasileiro, que não conhece gelo. Um amigo caiu lá de cima. Construí casa, fiz reforma de muitas. Isso sim era difícil. Casa feita de madeira, moço, entorta com o tempo, água acumula no forro e gadunha pra qualquer lado. Bom pro imigrante, que tem mais trabalho. Cortei grama com a gringa vizinha reclamando do barulho. Até em cozinha trabalhei, lavando pratos. Algumas vezes pensava não aguentar. Saía de um trabalho e entrava noutro, sem descanso. Mas quando a gente é jovem, o corpo parece pedir serviço. E como de trabalho nunca tive medo, fui ficando.
Quem me trouxe pra cá foi uma de minhas irmãs, muito querida. Até hoje carrego comigo uma cartinha dela. É meu talismã. Essa mana é a mais batalhadora das muitas que tenho. Foi a primeira a prestar atenção nas histórias das famílias cujos parentes começavam a vir pros estates. Quando perco o ânimo com a vida, tiro a mensagem da carteira e leio bem devagar. A letra dela, além do mais, é muito bonita. Redonda, toda por igual, de uma moça inteligente como ela só. Diz assim: “Querido irmãozinho (sou o caçula, até hoje ela me chama dessa maneira): Esse ofício de matar boi não dá futuro. Agora que nossa mãe morreu e você está sozinho no mundo, venha pra junto de nós. A viagem é pesada, mas vale a pena. As casas aqui são claras. Há muito sol, que nem no Brasil. Faz frio, mas tem sol. E há muitas janelas nas casas pra gente ver a luz. Eu tenho até carro, coisa que, aí, só rico pode ter. E muita roupa, porque é barata. E ainda me dão roupas usadas, em muito bom estado, nas casas onde faço faxina. Venha, meu irmãozinho, tem muito trabalho aqui. Nunca mais você vai precisar de matar boi (só de pensar nisso tenho um arrepio). Assim que chegar, eu lhe ensino a dirigir. Com muita saudade, sua irmã que muito lhe quer.”
Como prometia, essa irmã me abrigou na chegada. Mas logo busquei minha independência, como fiz ao aceitar o abate de boi. Pegava qualquer trabalho oferecido. Foi fácil pra mim porque família nova ainda não havia na minha vida. Vi muito homem na flor da saúde desistir. Tinham mulher e filho no Brasil, não dava. Muitos arranjavam mulher nova por aqui, mas não resolvia. E terminavam com filho lá, filho aqui e a cabeça comida de preocupação. Muita loucura, seu moço, muita dificuldade.
Percorri este país de fora a fora: de leste a oeste, de sul a norte. Morei em Seatle, onde faz muito frio, mas onde a natureza é especial. Em Boston, cheio de brasileiros. Em Austin, Texas, mais quentinho. Em Miami também, onde a brasileirada se confunde com os cubanos. Sempre nas cidades, porque nelas há mais trabalho. Com tanta andança, demorei muito a encontrar a minha cara metade. Fiz muita besteira, me meti com umas gringas complicadas, talvez porque naquela época não dominava a língua delas. Não sou feio, como a senhor vê, até hoje. No Brasil e aqui, nunca me foi difícil conseguir mulher. Mas aqui e lá, mulher não é bicho fácil de dominar. E como amarrar cabeça e perna só pude fazer com boi, às vezes me metia em encrenca. Sou carinhoso com as moças, faço agrado, por isso mesmo mal me interpretam. Algumas me deixaram, de outras me cansei. Encontrei a mãe dos meus filhos num show aqui em Nashville. Tinha vindo visitar uns parentes: não a deixei voltar pro Brasil.
Meu único problema foi a tristeza. É verdade o que diz minha irmã na cartinha dela. Aqui há conforto, há claridade, há carros bonitos. Não me queixo. A casa onde vivo um dia será minha, aqui estou criando meus filhos, que, por muito esforço dessa doce esposa que tenho, falam um pouquinho de português. Mas a vida só de trabalho daqui me custou quase a saúde. Não a do corpo que, como pode ver, vai muito bem. Mas a mente, senhor, a cabeça da gente, sofre muito. Já passado algum tempo vivendo aqui, me bateu uma nostalgia muito grande. Não era, felizmente, como a de alguns que conheci, terminados no hospital, pra não mencionar estados piores. A minha foi uma tristeza que nem parecia tristeza. Era assim como um cisco que entra no olho da gente, pequeno, tão pequenino que nem parece cisco. Mas fica ali, presente, e a gente não sabe como tirá-lo do olho. Esse cisquinho não me levou a vontade de trabalhar, mas foi tornando o trabalho sem interesse. Aqui treinam bem a gente, aqui se aprende a fazer tudo bem direitinho, sem pensar e sem perguntar porque faz. Assim que continuei conseguindo trabalho e sempre ganhando elogio. Mas quando chegava em casa era aquele vazio por dentro. Comecei a lembrar de Minas, comecei a sonhar com a roça. Pra lá não podia voltar: meus irmãos quase todos aqui, empurrando a vida. Amigos não deixara, porque muito jovem tinha saído.
Comecei a lembrar de boi e dei pra aboiar. Meu pai era vaqueiro. Rememoro viagens com ele, bem pirralho ainda eu era, transportando boi pelo sertão afora. Mas não recordo de ter aboiado antes na vida. Coisa que se escuta em menino fica encarnada, descobri. Aboiava quase em silêncio, pra não perturbar os vizinhos. Fechava os olhos e começava. O aboio trazia a visão dos morros agrestes de Minas, verdes que aqui não há, tudo sempre tão limpo e tão tratado. Pelo menos assim percebi, nas poucas vezes em que tive oportunidade de viajar pelos matos deste mundão de Estados Unidos.
Em seguida, moço, veio a música completa. Sussurrava baixinho as melodias gravadas na mente, baladas e modas de viola. Naquela época, não tinha essa facilidade de comprar CD brasileiro em qualquer lugar. Ou de escutar música no computador, como faz meu filho. Era a memória, o escuro fundo da memória, o lugar de morada da música da minha cantoria. Trabalhava duro igual, mas só pensava em voltar pra casa e tirar minhas toadas. Foi assim, senhor, que pude suportar a vida neste país por todos esses anos.
- Billy Boy, faltam 5 minutos!
Ele era, realmente, um homem bonito. Não tinha ainda quarenta anos e a pouca maquiagem ressaltava os cabelos escuros, a pele e os olhos claros. A roupa de caubói, em couro branco e tachas prateadas, recordava Roy Rogers em seus dias de glória. Empunhou a guitarra e sorriu pra mim:
- Hoje, se tiver brasileiro na platéia, canto uma música do Luiz Gonzaga pro senhor. Descobri a cantoria dele aqui, cheguei até a pensar em adotar sua vestimenta. Meu agente, porém – tive sorte, cedo me descobriram - disse que melhor me inventasse uma roupa mais americana. Mas ainda hoje gosto mais das canções do Luiz Gonzaga que da música sertaneja moderna, sempre pedida pelos conterrâneos em visita, vindos do interior de São Paulo, do Paraná, do Mato Grosso.
Quis ser Billy Boi, mas me disseram que em inglês não ia funcionar. Aqui, boi, palavra que eles também conhecem e usam, se refere à mulher macha, sapatão. Me sugeriram permanecer com a palavra que já havia no inglês, embora não significasse a mesma coisa. Eu ia ser Billy Boy: soava bem, era curto e fácil de memorizar. Então, eu disse, que seja Billy Boy. Cheguei neste país um boy, seria uma maneira de perpetuar aquela idade, quando os bois estavam ainda no meu sangue. Mas só aqui fui capaz de dar-lhes vida, como se tê-los matado por tanto tempo tivesse produzido o estrume que me fez crescer, fazendo também nascer em mim o Billy Boy, astro da country music.
O público entrou em delírio quando Billy Boy entoou as primeiras notas. A letra da música contava desgraças da vida do caminhoneiro. Sorriam, dançavam, aplaudiam. O show ia pelo meio, quando, ao final de uma dolente canção de amor, alguém gritou em bom português:
- E aí, Billy Boy, é verdade que você é brasileiro?
- Of course, companheiro! Você conhece essa?
Os fãs, aparentemente conscientes da origem de seu ídolo, receberam com aplausos a primeira frase:
- “Minha vida é andar por esse país...”
Um pequeno grupo de brasileiros acompanhava a letra em português, eu incluído entre eles.
Lidia V. Santos